Discos do Mês: TRÊS DISCOS PARA O SÉCULO 21
Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br
Já faz algum tempo que temos a ideia de sugerir discos – gravações interessantes tecnicamente e musicalmente – mensalmente, em todas as edições. Afinal, nem só de CDs da Metodologia vive um audiófilo.
Até pouco tempo atrás, o acesso à gravações não era dos mais fáceis, necessitando que as gravadoras disponibilizassem os CDs para divulgação, ou que nós mesmos comprássemos o que achássemos interessante.
Bom, esse cenário é pouco prático, de várias maneiras. Primeiro pela falta de disponibilidade de gravações de alta qualidade sonora no mercado nacional – onde impera o quão ‘comercial’ a gravação pode ser. À seguir, pela simples menor disponibilidade de CDs no mercado como um todo!
Uma maneira de divulgar bons discos é a que o Fernando Andrette faz, com artigos temáticos (como discos para avaliar textura, etc) ou com divulgação, dentro de seus artigos e testes, de gravações especiais (em qualidade de som e em musicalidade) feitas por amigos e parceiros da revista, como é o caso do novo disco do André Mehmari em homenagem ao trabalho do músico mineiro Milton Nascimento.
Os primeiros nomes que me vieram à cabeça, para esta coluna, são: “CDs do Mês” (impraticável em um mundo onde o vinil, os downloads e o streaming convivem juntos, e o CD está chegando perto de ficar tão raro quanto o pássaro Dodô), ou “Discoteca Básica” ou “Discografia Básica” (ambos nomes fora de moda, além do fato de que audiofilia não tem nada de ‘básica’).
Discos do Mês – já que será uma coluna mensal – me pareceu a melhor opção, já que ainda nos referimos aos ‘álbuns’ como ‘discos’: “Você ouviu o último disco do André Mehmari? Sensacional!”, não importa se é CD, vinil, download ou streaming.
Os ‘discos’, aos quais nos referimos no dia a dia, podem ser encontrados, em um termo geral, em CD, em vinil, para download ou via streaming pelos vários sites usuais – sendo que o Tidal e Qobuz têm sido os mais recomendados em questão à qualidade de som.
Nesta edição semi-inaugural, trago como sugestão três discos, sendo um de jazz, um de clássico e um de world-music. O disco de jazz é na verdade jazz-blues, com toques moderninhos. O de clássico vai gerar puristas atirando o Pão de Açúcar na minha cabeça com um mega-estilingue. E o de world-music é mais rock alternativo do que ‘lhamas cantantes dos Andes’, rs!
Vamos à eles:

Dominique Fils-Aimé – Nameless
(Ensoul Records, 2018)
Tem uma coisa que me incomoda nos lançamentos de jazz dos últimos tempos: o ser ‘mais do mesmo’, que resulta em banalidades. Alguns até me lembram banda cover – ou seja, soam como uma cópia falsificada de algo consagrado – e alguns jazz trios fogem disso por inserir instrumentos incomuns à essa formação, ou buscar sonoridades étnicas, ou ser diferente sendo esquisito. Eu costumo falar que para se fazer mais do mesmo é preciso ser estrondosamente bom – o que a maioria não é – ou então se põe um tempero diferente, se busca uma voz diferente, um arranjo diferente, etc. E aí se faz música interessante.
Eu travei conhecimento com o disco da cantora e compositora Dominique Fils-Aimé através da comunidade internacional de reviewers e profissionais da audiofilia, na Internet, que frequentemente sugere não só discos interessantes como equipamentos e acessórios interessantes. Olhei a capa e falei: pronto, mais uma cantora de jazz, em um mundo onde o vizinho, o cunhado, o padre e o cachorro do padre todos lançam seus discos. Como o disco Nameless me foi sugerido pelos seus altos valores de produção, resolvi ouvir e ver qual era a da Dominique.
Nameless é o primeiro de uma trilogia que conta a história de gêneros musicais de origem africana-americana – neste caso, o blues com inspiração nas canções dos escravos, na raiz do blues. “O blues, triste, miséria. Foi uma era onde fizemos música com aquilo que conseguimos por nossas mãos: pedras, seu corpo, sua voz”, diz Dominique. O segundo álbum, que eu não tive o prazer de ouvir ainda, explora mais o jazz tradicional e ascensão da figura feminina no jazz. E o terceiro disco, ainda sem data de lançamento, explorará soul, hip-hop, R&B e funk.
De poderosa voz e presença, Dominique – que trabalhava como psicóloga e via a música como um hobby – foi participante da competição La Voix de 2015 (versão da TV canadense do célebre programa The Voice) sendo eliminada na semifinal. Quando perguntada porque um projeto ambicioso de três discos temáticos em vez de se dedicar a singles comerciais, ela respondeu: “Acho que subestimamos a capacidade das pessoas de prestar atenção e se focar em mais de uma canção”.
Engajada politicamente – haja visto a temática de seus discos – Dominique é canadense, natural de Montreal, maior cidade da Província de Quebec, núcleo franco-canadense, e filha de imigrantes haitianos. Suas principais inspirações são cantoras de jazz e soul como Billie Holiday, Etta James e Nina Simone. “Eu eventualmente me dei conta que eu cresci ouvindo praticamente só mulheres negras”. Para ela, uma psicóloga, música é terapia, quer você toque música ou ouça música.
Nameless é um disco gravado no estúdio Opus em Montreal para o selo canadense Ensoul Records, que promove artistas locais, e tem uma boa qualidade de gravação moderna que soa grande – uma tendência mais pop do que propriamente orgânica.
Sua sólida banda de apoio inclui baixo acústico, bateria e percussão, teclados, guitarra, violino e didgeridoo – um instrumento de sopro de madeira aborígene do norte da Austrália.
Destaque para as faixas Nameless, Song e Unstated – que eu achei as mais interessantes!
Disponível no mercado mundial em: CD / Vinil / Streaming.


Max Richter – Recomposed by Max Richter – Vivaldi: Four Seasons
(Deutsche Grammophon, 2012)
Atenção: Este disco não é recomendado para fãs ferrenhos de barroco! Se quiserem fazer vudu com o Christiazinho, façam o boneco menos gordo do que eu realmente sou – eu ficarei envaidecido!
Falando sério: conceitualmente é algo que faria coalhar o leite do café da manhã de muita gente. Eu mesmo ouvi por indicação de um amigo (aliás, ouvi na casa dele) e fiquei surpreso e interessado – junto com um outro disco de um grupo de câmara tocando trechos famosos das óperas de Richard Wagner, ao vivo, em Veneza, acompanhados de um acordeon, disco o qual será recomendado em outra edição desta coluna.
Todas as pessoas para quem toquei esse disco acabaram achando ele um bocado interessante. Talvez até tenha se tornado uma espécie de prazer secreto de algumas delas, um disco para se tocar quando os amigos do Barroco e os puristas clássicos estão longe.
O fato que a ‘recomposição de um Vivaldi’ pelas mãos de Richter é muito bem tocada e muito bem gravada.
Max Richter nasceu em Hamelin, na Alemanha, em 1966, mas foi criado em Bedford, no Reino Unido, depois estudou piano e composição na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e na Royal Academy of Music em Londres, especializando-se com o compositor experimental italiano Luciano Berio, em Florença – e essa especialização transparece e influencia bastante a obra de Richter.
Além do experimentalismo, da música contemporânea e do minimalismo – características claras em seu trabalho – Richter também seguiu Berio no uso da música eletrônica, onde é fácil um pianista passar a privilegiar e operar teclados e sintetizadores. O uso de sintetizadores fica bem claro em outros trabalhos dele, além de, principalmente, em suas trilhas sonoras.
A primeira aventura musical de Richter foi a formação de um sexteto de pianos – focado em repertório contemporâneo de nomes conhecidos como Kevin Volans, Arvo Part, MIchael Nyman, Terry Riley e outros – chamado Piano Circus. Em seguida, fez uma série de participações em grupos de música eletrônica de várias vertentes – algumas que não me interessam nem um pouco – tanto na capacidade de pianista e tecladista, como na de compositor.
Os trabalhos mais ‘sérios’ de Richter começaram a acontecer de 2002 para cá, com trabalhos clássicos contemporâneos como Memoryhouse, gravado com a Filarmônica da BBC incluindo o uso de sintetizadores e o experimentalismo de vozes e sons de ambiente, além de leitura de poesia concomitante. Claro que ele tem também um bocado de modernidades que vão além do limite do esquisito, como o disco 24 Postcards in Full Color, um disco de ringtones para celular – que para mim me parece algo como ‘um restaurante para sentir cheiro de comida’.
Outros álbuns mais sérios incluem Infra, que traz a música para um balé tocada com piano, sintetizadores e quinteto de cordas, e a dupla de discos Sleep e From Sleep, que trazem 31 peças totalizando quase 9 horas de música “para acompanhar uma boa noite de sono”. O fato que, neste último par, eu encontrei algumas belíssimas e assombrosas peças musicais, para piano, cordas, sintetizadores e vocais femininos – e o melhor de tudo é que eu descobri essa música acordado!
No meio dessa variedade musical modernista, Richter tem uma extensa carreira como compositor de trilhas para filmes e séries – inclusive participações na música do filme Ilha do Medo (Shutter Island), dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, uma trilha só de música clássica moderna e contemporânea com compositores que vão desde Ligeti até John Cage e Brian Eno.
Mas, um dos motivos desta coluna, e a obra-prima “recomposta” por Max Richter, é mesmo Four Seasons de Antonio Vivaldi – cuja versão original do compositor barroco italiano é uma da mais tocadas e gravadas obras do repertório clássico, e conhecida de todo mundo que tenha ouvidos nos lados da cabeça, sendo que parte de suas melodias já foram usadas até em espera de telefone de central de telemarketing de empresas (“Não desligue, sua ligação é muito importante para nós”) e propaganda de sabonetes Vinólia.
A versão de Richter é considerada neo-clássica, pós-modernista e minimalista, contando com a orquestra Konzerthaus Kammerorchester Berlin, regida pelo maestro alemão André de Ridder, contando, como solista ao violino, com o britânico Daniel Hope – que, aliás, toca com um violino Guarneri del Gesú de 1742.
A ordem dos temas é totalmente diferente, comparado com o original Vivaldi, assim como Richter mesmo declarou que não usou a maioria do material original, preferindo dar nova roupagem aos temas mais conhecidos. Com diferentes intenções, ênfases e arranjos, sua versão soa às vezes um pouco etérea, assim como quase sobrenatural, sonhadora, com alguns críticos falando que finalmente versões, rearranjos e mixagens modernas de música clássica se tornaram interessantes. Bom, nesse caso eu concordo!
Além de ter saído por um selo clássico altamente conhecido – o alemão Deutsche Grammophon, ou DGG, que hoje pertence ao grupo Universal Music – essa Recomposição de Vivaldi tem uma qualidade sonora muito boa, com excelente captação do violino, orquestra soando grande e boa ambiência (ainda que um tanto artificial, fruto da modernidade temática da gravação). É recomendada por ser interessante tanto musicalmente quanto em qualidade som.
Destaque para as faixas Spring 2, Summer 1 e Summer 3 – que eu achei particularmente interessantes.
Disponível no mercado mundial em: CD / Vinil / Streaming.

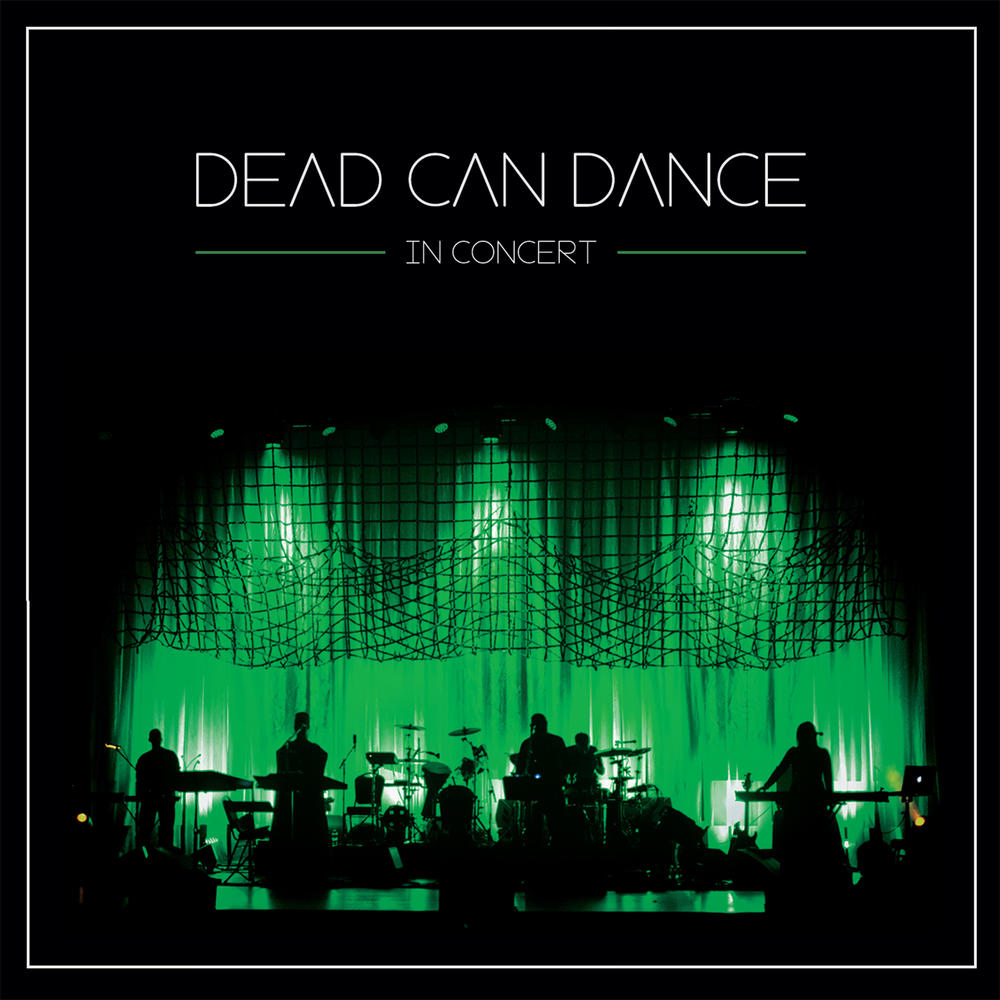
Dead Can Dance – In Concert
(PIAS Recordings, 2013)
Um dos gêneros musicais mais interessantes é o World Music. Como nome e designação é detestado por muitos – apesar de eu nunca ter entendido o porquê, realmente. Tem gente que adora por etiqueta no trabalho que faz e no dos outros também – como é o caso da música eletrônica, que quase tem mais gêneros e subgêneros do que artistas.
Eu não me incomodo com etiquetas, e World Music para mim é aquilo que não é gênero específico consagrado de culturas que conhecemos – como a ocidental e parte da oriental. Entendo que existe um fator limitante para muitos: os que conhecem apenas o jazz e suas vertentes, o rock e suas vertentes e o clássico e suas vertentes – e tudo o mais é ‘world music’. Eu prefiro catalogar ou etiquetar como World Music uma música que não tem catalogação óbvia – como a africana tem, a japonesa tem, a chinesa tem, a do Oriente Médio tem, entre outras – uma música que pertence ao mundo, que geralmente mistura uma série de influências e aspectos de várias culturas. No jazz chamam de Fusion, mas no que mais existe por aí, não tem catalogação. Chamo, portanto, de World Music – como é o exemplo do trabalho do músico inglês Peter Gabriel, fomentador de misturas com uma música também chamada de Étnica.
Veja, todo esse preâmbulo chato é para falar de um expoente do gênero que é de origem australiana, radicados depois no Reino Unido, e que traz influências étnicas de muitos lugares mas que não tem como ser catalogado definitivamente – talvez devido à ser e soar único.
O duo Dead Can Dance é originalmente formado em Melbourne na Austrália, em 1981, pela cantora e musicista Lisa Gerrard e o cantor e multi-instrumentista Brendan Perry. Claro que, ao longo do anos, o duo teve sempre uma excelente banda de apoio – na qual muitos músicos permaneceram gravando e tocando ao vivo com a banda durante muitos anos. Estes incluíam, com variações na formação de disco para disco: baixo, bateria, percussão, guitarra, sintetizadores, cello, trombone, tímpanos, entre outros.
No Dead Can Dance, além de composição e arranjos, Lisa Gerrard é famosa pelo timbre de sua voz – além de sua habilidade tocando o Yangqin (um tipo de dulcimer medieval chinês). Em seu trabalho solo, também por seu alcance e habilidade vocais, ela é bastante lembrada por muitos dos que assistiram o filme Gladiador, do diretor Ridley Scott, em cuja trilha sonora tem um bocado de participação vocal sua. Inclusive, Gerrard co-assina a trilha sonora junto com Hans Zimmer.
Brendan Perry, além dos vocais, vários instrumentos, composição e arranjos, tem um extenso trabalho como profissional de estúdio, vários álbuns solo, além de uma lista longa de colaboração em discos de vários artistas.
Parte da dificuldade em se catalogar o som do Dead Can Dance está na imensidão e mistura de gêneros que fez parte da evolução da banda. Primeiramente, eles passaram décadas como parte de um selo inglês de rock alternativo, o 4AD. Depois, durante os anos, sua sonoridade foi ‘acusada’ de usar: poliritmos africanos, folk gaélico (música celta), canto gregoriano, mantras do Oriente Médio, Art Rock, rock progressivo, rock alternativo, eletrônico ambient, gótico, música medieval européia, entre outros.
Em 1998 a banda se separou oficialmente. Mas, ao longo dos anos, várias reuniões ao vivo ocorreram, assim como, em 2012, Gerrard e Perry montaram mais uma encarnação do Dead Can Dance e gravaram Anastasis – do qual, aliás, o disco In Concert é o registro ao vivo da turnê.
Em 2018, Perry começou a trabalhar em uma série de faixas que seriam para um álbum solo seu. No meio do processo percebeu que elas soavam mais como Dead Can Dance do que como um disco solo, e logo contatou Gerrard e, juntos, gravaram Dionysus, o mais recente trabalho de uma banda que, de uma maneira ou outra, está fadada a continuar trazendo música interessante e rica em um cenário musical que é, por vezes, semi-árido.
Com uma carreira de quase 40 anos e nove elaborados discos de estúdio, In Concert é apenas seu segundo disco ao vivo – e o interessante disso é que, além da música do disco do qual é turnê, traz também uma série de faixas do repertório consagrado da banda. Bom para conhecer o trabalho deles, e bom para os fiéis fãs.
Destaque para as interessantes faixas: Amnesia, Anabasis e Opium (todas do disco Anastasis de 2012), e Nierika (do disco Spiritchaser de 1996).
Disponível no mercado mundial em: CD / Vinil / Streaming.




