Discos do Mês: SWING, NEOCLÁSSICO & JAZZ
Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br
As coisas que mais fazem falta, durante pouco mais de um ano de ‘caos social controlado’, subproduto da pandemia, são: poder sair de casa para ver o mundo e socializar com entes queridos, e poder assistir música acústica ao vivo. E também rocambole Pullman de goiaba (mas esse não existe mais, e não é culpa da pandemia…).
A ausência, ou melhor, abstinência de música ao vivo, acústica, é para mim equivalente à falta de vitaminas no organismo: as coisas parecem que começam a funcionar mal, alguma coisa está errada conosco, alguma coisa essencial está faltando. Se música é o pão do espírito, então música ao vivo acústica é aquele pão feito em casa, recém saído do forno, quente, com muita manteiga boa em cima, e uma xícara de café com leite, com pouquinho de canela – que dá aquela aquecida no estômago. “Não falem comigo enquanto eu não ouvir meu contrabaixo acústico matinal!”.
Daqui a pouco, chegaremos ao ponto de ter que nos encontrar clandestinamente, em alguma esquina escura de uma praça
pública, de madrugada, fora da iluminação pública, e sussurrando passar uma nota de 100 reais, para que um sujeito mal encarado puxe de dentro do sobretudo um cello, e toque jingles de rádio, música de propaganda de Sucrilhos, durante alguns segundos, para que possamos voltar para casa com os olhos vidrados, e o sorriso benigno no rosto, com nossas energias momentaneamente reabastecidas, rs!
Hoje o ‘prato do dia’ inclui, de maneira quase que totalmente acústica: Primeiro, um disco de uma banda de swing que apareceu com algumas décadas de atraso – para a nossa sorte! Segundo, uma banda belga de neoclássico, ou chamber rock, ou sabe-se lá que outros rótulos. E, em terceiro, mas não menos importante, uma das grandes cantoras de jazz contemporâneo, uma bela voz que alegra a vida dos fãs de jazz audiófilos há quase três décadas.
Vamos à eles:

Big Bad Voodoo Daddy – Americana Deluxe (Coolsville / Interscope Records, 1998)
Na década de 90, um dos meus amigos mais antigos e queridos sempre me aparecia com algum disco fora do ‘comum’, com algo que não se esperaria dele – bom, eu esperava, porque eu já estava acostumado, mas um amigo em comum costumava dizer que ele não era ‘eclético’ e sim ‘maluco’, porque os discos que apareciam variavam incrivelmente de gênero.
Não vou conseguir lembrar porque, mas ele começou a ouvir bandas novas de swing, quase big bands, daquelas que você, ao ouvir, fecha os olhos e praticamente ‘vê’ os caras de chapéu, terno jaquetão de risca de giz e sapato de duas cores, com o baixista girando o baixo de vez em quando, e um monte de casais dançando alucinadamente, alguns vestidos de uniforme, pois são soldados da Segunda Guerra em licença, dançando com suas namoradas. Com essa imagem mental, após ouvir o primeiro disco oficial do Big Bad Voodoo Daddy algumas vezes no carro e na casa desse meu amigo, um dia vi um clipe em um programa de TV (nessa época, o YouTube ainda não imperava). Adivinha o que tinha no clipe? Exatamente: músicos de chapéu e terno de risca de giz, o baixista girando o baixo de vez em quando, e gente dançando. Era 1940? Não! Era 1998!
E é claro que existem outras bandas de gênero semelhante, e nomes igualmente mirabolantes, como Squirrel Nut Zippers, Red Hot Skillet Lickers, e Cherry Poppin’ Daddies. Eu sempre reclamo da quantidade de rótulos que as pessoas dão à músicos, bandas e discos, mas no fundo acho que cada um ajuda a entender melhor a que vieram tais obras musicais, pois cada rótulo diferente mostra uma visão de uma pessoa diferente. O som do Big Bad Voodoo Daddy é chamado de ‘swing revival’, porque na verdade, pelos nomes de desenho animado acima, vê-se que na mesma época apareceram vários grupos, portanto aconteceu um revival. Mas, outros rótulos dizem neo-swing, ‘retro swing’, ‘swing-and-jump’. Mas a maioria dessas bandas é surpreendentemente tradicional em sua sonoridade, na verdade, geralmente sem invenções, como se os músicos estivessem vivendo 50 e poucos anos antes.
O neo-swing traz influências como jazz vocal, rockabilly, boogie-woogie – e, em alguns casos, trazem elementos de rock e ska. Mas, em um conceito geral, especialmente este disco do Big Bad Voodoo Daddy se concentra mesmo no swing da metade do século passado.
Para quem é este disco? Eu diria que todos os fãs de música acústica, jazz, big bands, swing e afins, vão poder ouvi-lo com grande prazer e diversão. É tão universal que pode ser tocado tanto na frente de crianças como de idosos, rs!
Em 1994, a banda gravou um disco independente, logo após sua formação. O disco seguinte, Americana Deluxe foi o real ‘lançamento’ do Big Bad Voodoo Daddy ao mundo, aos videoclipes, rádios e paradas de sucesso – gravado no Capitol Studios e com distribuição por uma grande gravadora, a Universal Music. Este disco traz, inclusive, regravações de faixas de seu disco independente. Mas será que sua performance, como big band, é do estilo sério, complexo e genial de um Duke Ellington? Não, não é. É de um estilo de bom humor – o que irritou puristas – e leve, e divertido, e energético, realmente evocando as imagens que eu falo alguns parágrafos acima, dos bailes da década de 40, em plena Segunda Guerra.

O Big Bad Voodoo Daddy deve seu nome a um episódio sensacional da vida do fundador e vocalista Scotty Morris. Em 1989, Morris tinha assistido um show de uma lenda do blues, o taciturno Albert Collins (cujo apelido era “Ice Man”), e ao término do show, arrancou um poster da parede e foi ao camarim, pedir que Collins o autografasse. Albert Collins, mais uma vez entrando para a história, olhou para a cara de Morris, pegou a caneta e assinou “To Scotty, the Big Bad Voodoo Daddy”! E é por isso que lendas do blues são lendárias! Scotty Morris, depois, declarou que o nome ‘caiu do céu’, que quando pensaram em formar uma banda, o nome não poderia ser outro.
A fundação, anos depois, se deu na cidade de Ventura, na Califórnia, ao noroeste de Los Angeles, por Scotty Morris nos vocais e guitarra, e Kurt Sodergren na bateria e percussão. E, claro, um grande número de músicos de apoio, que inclui baixo acústico, sax, sax barítono, trompete, clarinete, trombone e piano.
Esse primeiro álbum profissional do Big Bad Voodoo Daddy vendeu, antes de sair o disco seguinte, mais de 3 milhões de cópias,garantindo que uma faixa fizesse parte da trilha sonora do filme Swinger (1996) – que também trazia uma breve participação da banda, em carne e osso. Logo, também, Big Bad Voodoo Daddy acabou por fazer outras apresentações típicas de banda famosa, como
tocar no intervalo da 33a edição do Super Bowl, em 1999, dividindo tempo no palco com Stevie Wonder e Gloria Estefan.
Atenção especial deve ser dada às faixas Mr. Pinstripe Suit, e King of Swing, entre outras.
Pode ser encontrado em: CD / Serviços de Streaming selecionados. O CD e o streaming estão bons. O disco pode ser encontrado tanto sem título, como também o relançamento pelos selos Coolsville e Interscope Records, com o nome de Americana Deluxe – ambos com a mesma capa.
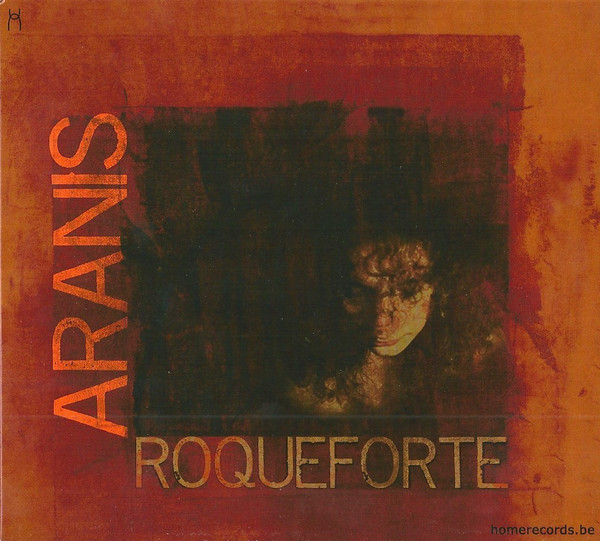
Aranis – Roqueforte (Home Records, 2010)
Na década de 90, um grupo de três cellistas finlandeses de formação clássica, sob o nome de Apocalyptica, lançaram pelo menos dois álbuns muito interessantes com música do grupo de heavy metal Metallica (e de outros grupos de metal também) sendo tocadas, às vezes freneticamente, por três cellos apenas. Apesar de depois, mais pra frente na carreira, puxarem para o metal mais puro, o início do Apocalyptica foi neoclássico e uma das expressões do chamado ‘chamber rock’, onde pequenos grupos tocavam música clássica com uma sonoridade que trazia influências de rock, em um estilo meio de música de câmara. Ou seja, uma mistura de música clássica com rock, e de rock com música clássica.
Uma das bandas que surgiram na mesma época é a belga Aranis – só que esta se focou no repertório próprio, e com uma formação maior e mais completa. Mas eu me lembro claramente de descobrir o som do Aranis graças ao meu interesse pelos dois primeiros discos do Apocalyptica. E, por ter sido criado com música clássica, e depois ter adquirido o gosto por rock, principalmente o progressivo, e por jazz – ao longo do meu crescimento (vertical e horizontal) – é claro que eu me interessei pelo estilo do Aranis, instantaneamente!
Para quem quer fazer o estudo mais profundo, claro que o gênero de neoclássico, ligado ao chamber rock, originou várias vertentes, algumas delas fúteis e ocas demais para um fã de música mais elaborada e complexa, como o ‘chamber pop’ e – Deus nos livre! – ‘baroque pop’ (junção de pop com barroco, bleargh!).
O som do Aranis, ao mesmo tempo que eu considero como tendo muito a ver com o trabalho do Apocalyptica – e me lembrando alguns trabalhos do último Quinteto Tango Nuevo, do Piazzolla – tem uma sonoridade bem própria, se encaixando não só como neoclássico, mas ao mesmo sendo chamado de experimental, avant-rock, ‘neo-classical chamber’ e, em alguns momentos, até de minimalista, e com influências do folk do leste europeu.
Para quem é este disco? Para todos que gostem de música clássica, música de câmara, de Piazzolla da última década de carreira, de música acústica, de várias vertentes do jazz, e tenham pelo menos uma compreensão da importância do rock progressivo e da pequena ‘generalização’ à qual se referem hoje como art-rock – que acaba englobando todos os que continuaram o rock progressivo e até melhoraram e lapidaram ele, ao longo dos anos. Portanto, claro que o disco agradará quem gosta das vertentes mais elaboradas de rock.
Roqueforte é o quarto álbum da banda belga Aranis, menos etéreo que os discos anteriores, e um dos poucos de sua longa carreira de 20 anos e 7 discos de estúdio, que faz um uso mais extenso da bateria e do piano – já que conta com músicos convidados, como o violista Stefan Wellens, como o Pierre Chevalier (tecladista da banda de rock progressivo belga Univers Zero) ao piano, e Dave Kerman
da banda de rock progressivo avant-garde americana Thinking Plague, na bateria. Diz a lenda que Kerman, inclusive, procurando uma sonoridade e intensidade diferentes na bateria, em vez de usar baquetas, utilizou pauzinhos de comida oriental, também conhecidos como ‘hashi’. O fato que o uso da bateria neste disco é bem judicioso, e bastante complementar, sem impor ou interferir tanto com a estrutura musical, que é principalmente estabelecida pelo contrabaixo acústico.

O Aranis formou-se em Antuérpia, na Bélgica, em 2002, iniciativa do baixista e compositor Joris Vanvinckenroye, de formação clássica – mas que ao longo dos anos sempre de envolveu com projetos que iam desde a música eletrônica até música para teatro e dança, e também o mais longevo grupo Aranis. A formação mais ou menos fixa do grupo compreende, além do baixo, dois violinos, dois pianos, acordeon, guitarra e flauta – mas, frequentemente toca e grava com músicos convidados, como vozes e cordas.
A natureza musical e comercial do Aranis sempre permaneceu sendo alternativa, prevalecendo composições do líder Vanvinckenroye
ou, como nos discos Made in Belgium I e II: obras de vários compositores belgas contemporâneos. Seguindo a mesma linha, o grupo teve participação ativa, a partir de 2011, no movimento Rock in Opposition, que buscava desde a década 70 dar espaço à bandas progressivas em oposição à Indústria da Música, que não lhes dava espaço.
Destaque para as faixas Roque, e Tissim – muito boas, mas o resto do disco também é interessante e coerente.
Pode ser encontrado em: CD / Serviços de streaming selecionados. A qualidade de som do CD e do streaming são decentes – mas é um disco que merecia um remaster e, obviamente, uma edição em vinil (e eu não sou o único que fala isso – tá cheio de fãs dizendo na Internet que está na hora de sair em bolachão).
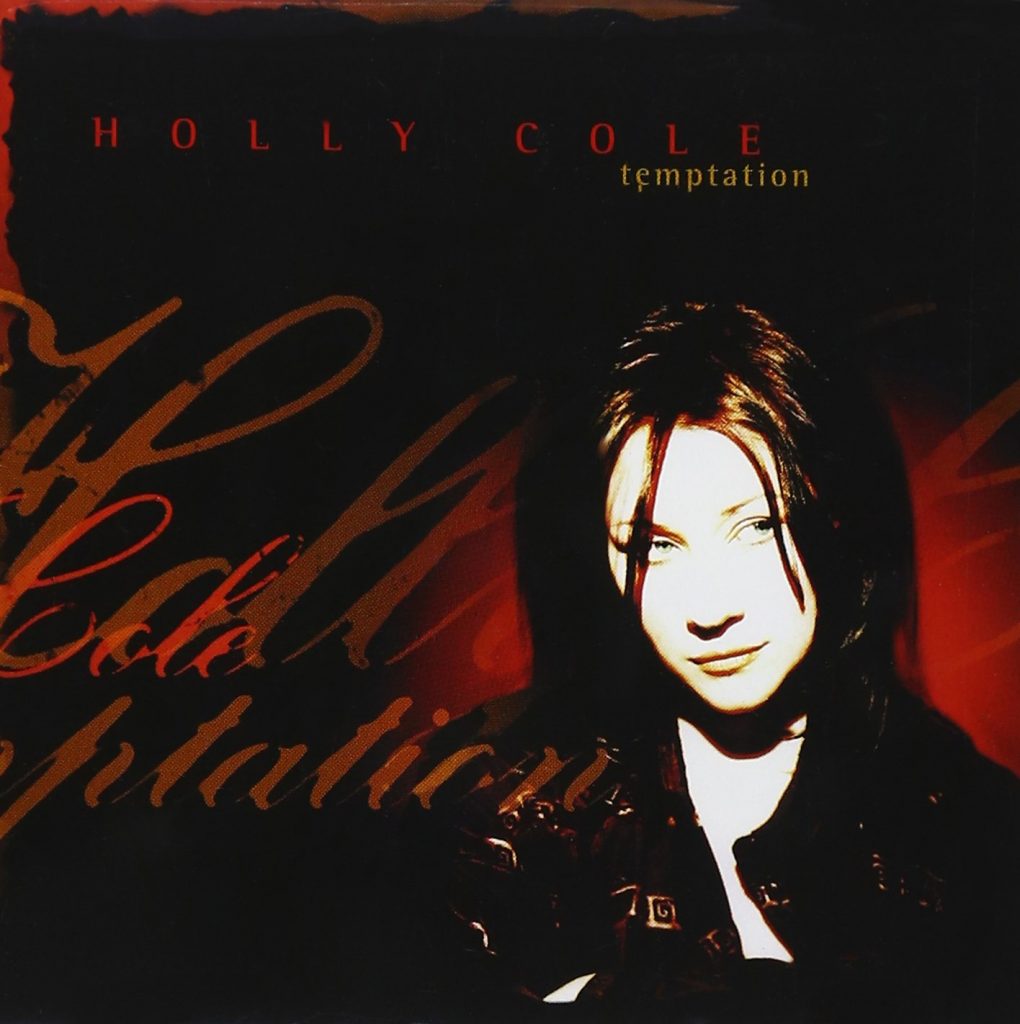
Holly Cole – Temptation (Alert Records / Metro Blue, 1995)
Na década de 90 foi quando eu comecei a ouvir mais jazz na minha vida. A década anterior havia sido dedicada à várias vertentes do rock (eu era adolescente) – e o jazz começou a me interessar com discos do Chick Corea para a gravadora ECM (eu trabalhava em uma loja de discos, e a única regra para saber se a música é boa ou não, é ouvi-la).
Foi nessa época também que eu me tornei o que se pode chamar de audiófilo, travando conhecimento com equipamentos que a maioria dos humanos não poderia ter, e também com gravações cuja qualidade era inacreditável. Através da comunidade de audiófilos de São Paulo, eventualmente eu conheci o trabalho da cantora canadense Holly Cole – e ela é uma das minhas preferidas, se não for a favorita, entre as cantoras modernas de jazz que ouvi até hoje.
Meu primeiro contato com Holly Cole foi através de um disco ao vivo, muito bom, o que me levou a adquirir a maioria de seus discos de estúdio – o que inclui este, Temptation, que é um álbum tributo ao cantor, compositor e letrista americano Tom Waits.
Para quem é esse disco? Para todos que gostem de voz feminina de altíssimo nível de beleza e técnica, para quem é fã de cantoras de jazz (e também de jazz em geral) e, claro, para quem é fã da música e das letras do sensacional de Tom Waits – apesar de não ter aqui a voz grave, rouca e única dele.
Temptation é um disco bem elaborado e arranjado, que traz uma boa quantidade de músicos (a maioria canadenses), enriquecendo a sonoridade de seu usual Trio, como: cello, bateria, guitarra, national steel guitar, slide guitar, tuba, sax, violino, gaita (no caso Howard Levy do Béla Fleck & The Flecktones), trompete, viola, baixo, trombone, entre outros. A percussão fica à cargo do brasileiro Cyro Baptista, que já tocou ou gravou com Herbie Hancock, Wynton Marsalis, Cassandra Wilson, Naná Vasconcelos, Paul Simon, entre vários outros.

Nascida em 1963, filha de um apresentador da rádio canadense CBC Music (centrada em repertório jazz e clássico), Holly Cole começou a procurar seu espaço como cantora na década de 80, formando seu Trio com o baixista David Piltch e o pianista Aaron Davis em 1986. Pouco tempo depois, em 1989, o Trio assinou com uma gravadora e lançou seu primeiro disco, Christmas Blues, chegando depois a gravar covers de Lyle Lovett, Elvis Costello e outros. A discografia de Holly Cole, tanto com seu Trio como solo – em uma carreira que está até hoje em plena atividade – compreende mais de 16 discos!
O destaque especial vai para as faixas Train Song, e Frank’s Theme.
Pode ser encontrado em: CD / Serviços de Streaming selecionados / Vinil. Como a gravação é tecnicamente excelente, o CD é muito bom e o conteúdo nos serviços de streaming é bastante decente também. Por ser de 1995, claro que não saiu no Brasil em LP, até porque é de um selo pequeno, e a própria distribuição internacional dele foi mais tendo na mira audiófilos melômanos fãs de jazz, do que outra coisa qualquer. Nas últimas décadas ele foi lançado em LP de duas maneiras, ambas pela Classic Records: 33RPM de 180 gramas, e depois duplo em 45RPM, Edição Limitada, remasterizado. Ambos custam o olho da cara.



